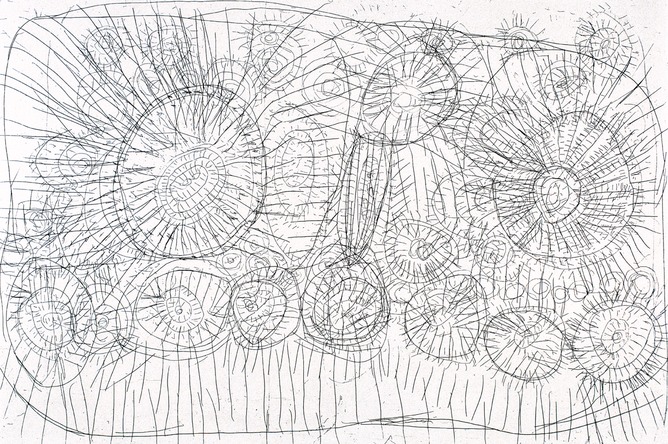A informação na contemporaneidade tem seus céu e inferno na falta de limites. Em primeiro lugar, devido à tecnologia computacional e ao advento da internet que, juntos, permitem que se produza, divulgue e acesse montantes astronômicos de informação, à distância de um clique, bastando apenas uma conexão com a World Wide Web, isto é, a rede. O céu informacional contemporâneo é justamente a democratização da informação aberta pelo mundo da internet. O inferno, em contrapartida, é que tamanha abertura permite que ideologias totalizantes se valham dessa aventurosa horizontalidade democrática para alcançar, ao mesmo tempo e contundentemente, indivíduos do mundo inteiro. Uma boa metáfora para isso é o soldado que, no campo de batalha e de posse de uma metralhadora giratória potentíssima, tem poder para atingir todos a sua volta. Dessa metáfora devemos guardar que, dependendo da munição que é disparada pela potencialidade da comunicação na contemporaneidade internética, podemos conquistar a tão necessária liberdade tanto quanto sermos sujeitados verticalmente à servidão informacional.
Em A Galáxia da Internet: reflexões sobre a Internet, os negócios e a sociedade, Manuel Castells discorre sobre essa ambiguidade inerente às tecnologias da Era da Informação. De um lado, tratando do ideal de liberdade na democratização da informação. De outro, falando do atravessamento de tecnologias de controle -comerciais e governamentais- no sentido vigiar, investigar e identificar todos os terminais envolvidos nessa interconexão democrática. A Galáxia da Internet do sociólogo espanhol refere-se a A Galáxia de Gutenberg, obra em que Herbert Marshall McLuhan, um destacado educador, intelectual, filósofo e teórico da comunicação canadense, conhecido por vislumbrar a Internet quase trinta anos antes de ser inventada, responsável pela célebre máxima: “o meio é a mensagem”. McLuhan dizia que a prensa, na verdade a imprensa, revolucionou o mundo e a comunicação. Castells, por sua vez, e mediante sua referência ao pensamento do canadense, pretende apontar que a Internet é a nova prensa, a nova forma da revolução informacional na contemporaneidade.
Para tanto, Castells investe na análise das interações entre Internet, economia e sociedade que revolucionaram o velho conceito inerente às sociedades, qual seja, a vida em rede. Para o sociólogo, a Internet tem o poder de transformar o conceito de rede, essa antiga e essencial ferramenta de organização humana, seja em um modelo centralizado, vertical e de controle, seja em uma plataforma descentralizada, horizontal e flexível. A ambiguidade da internet e da informabilia que a constitui é tácita ao percebermos que, em rede, tanto se pode manipular as massas –e portanto e a priori cada indivíduo- com doses certeiras de informação a serviço do reacionarismo, quanto abrir um horizonte no qual os indivíduos/usuários podem revolucionar inclusive a proposta inicial em função da qual a própria internet foi criada.
Castells aponta que a livre troca de arquivos tipo MP3 e MP4, que aliena as grandes indústrias fonográfica e cinematográfica da produção, da distribuição e do consumo maciço de música e filmes; a panfletagem política e contracultural ilimitada; bem como a ágora de cultura e de entretenimento que se abre com a proliferação de revistas e jogos on-line, são provas de que os usuários podem fazer da rede -que não existe sem eles- algo que lhes convenha absolutamente. No entanto, é preciso apenas observar, quiçá vencer os poderes totalizantes que ao mesmo tempo e mediante a mesma rede tentam fazer dessa intercomunicação assaz democratizada e de todos os seus terminais/usuários massa de manobra subserviente aos seus interesses.
Em relação a esse inimigo a ser vencido, que com todos os bits tenta fazer da democratização da informação uma ferramenta tirânica sua, vale trazer à discussão a análise que o filósofo Gilles Deleuze fez da diferenciação foulcaultiana entre as sociedades disciplinares e as de controle, ambas tentativas de alcançar os indivíduos que compõe a sociedade. Conforme Deleuze em POST-SCRIPTUM – sobre as sociedades de controle, Foucault situa as sociedades disciplinares desde os séculos XVIII e XIX, cujo apogeu, entretanto, se deu no início do século XX. O que é importante saber dessas sociedades disciplinares é que nelas os indivíduos não cessam de passar de um espaço fechado a outro, cada um com suas leis inexpugnáveis: a família, escola, a caserna, a fábrica, o hospital, a prisão, e assim por diante. Disciplinados&Confinados, desde a maternidade até o cemitério seria o slogan perfeito para esse tipo de sociedade.
Porém, ressaltam os dois filósofos franceses, a partir do início do século XX, o mundo observa a crise generalizada de todos os meios de confinamento. Em outras palavras, a prisão, a fábrica, a escola, e até mesmo a família passaram a ser “espaços” cujo confinamento, no entanto, viabilizava não a disciplina, mas o seu contraexercício. Esses claustros disciplinares passaram a se comportar como bunkers de resistência que permitiam o exercício da indisciplinaridade. Aqui, basta imaginar um sujeito conectado ao mundo pelo seu smartphone dentro de um desses espaços das sociedades disciplinares. Como seria controlado se, de fato, ele não está ali, ainda que virtualmente fora dali? A crise das instituições disciplinares tradicionais, portanto, deveria ser superada pela implantação progressiva e dispersa de um novo regime de dominação. E para Foucault as sociedades de controle foram instituídas para evitar que os indivíduos gozassem plenamente de liberdade. Com efeito, coloca Deleuze, as sociedades de controle substituíram as sociedades disciplinares. Para o filósofo, Foucault identifica o futuro à formas ultrarápidas de controle, não mais claustronômicas, mas agorísticas, capazes de se darem ao ar livre, e por que não dizer wireless, em substituição à antiga disciplinaridade que operava mediante sistemas materiais e fechados.
Com Deleuze podemos perceber que a cada uma destas duas sociedades –a disciplinar e a controladora- corresponde certos tipos de ferramental, instrumento, aparato, maquinário para cumprir seus fins. Não que as máquinas, os aparatos em si mesmos, sejam determinantes, aponta o francês, mas porque são as expressões genuínas das formas sociais capazes de lhes dar nascimento e utilizá-los. A disciplina e o controle são a priori ideológicos. Todavia, imediatamente maquínicos.
As antigas sociedades aplicavam suas soberanias mediante máquinas simples movidas a alavancas, roldanas, cordas. A forca e a espada, em suma, o cadafalso espetacular dos príncipes, bem evidenciado por Foucault em Vigiar e Punir, são exemplos dessa simplicidade instrumental, todavia eficientíssima, nas mãos do poder totalizante. Já as sociedades disciplinares que as sucederam exerciam soberania através de equipamentos menos espetaculares, outrossim suficientemente eficientes, como a rígida organização dos espaços nos quais os indivíduos todos passavam as suas vidas. Aqui temos o panopticismo disfarçado de escola, de prisão, de igreja e até mesmo de família: equipamentos que tiraram os indivíduos da inobservância pré-punitiva da Era Cadafálsica Principesca para então alocá-los em um sistema de vigilância disciplinar indoor cujo Calcanhar de Aquiles, entretanto, era o perigo passivo da entropia e o perigo ativo da sabotagem.
Daí a crise das sociedades de vigilância disciplinar da qual falam os filósofos, e a qual gerou a necessidade que uma nova forma de dominação coletiva: a sociedade de controle. Com efeito, as sociedades de controle se valem de máquinas de uma terceira espécie: máquinas de informática; computadores; a rede em si; cujos calcanhares de fragilidade, todavia, são dois. Passivo: a interferência constante e o registro a priori de todas as atividades -virtuais e reais- dos indivíduos/usuários, o que os vulneralibiliza para qualquer observância e punição a posteriori. E ativo: a pirataria, a introdução de vírus e o hackeamento intempestivo.
Aqui é preciso colocar que a ação das sociedades de controle sobre os indivíduos que a compõem se dá de modo mais efetivo do que nas sociedades disciplinares, e mais ainda que nas punitivas-cadafálsicas, porque o maquinário, o aparato totalizante-controlador é mais obscuro aos terminais individuais. Paradoxalmente, mais obscuros e mais transparentes ao mesmo tempo. Cordas, roldanas, espadas, salas de aula, celas prisionais e torres de vigilância são estruturas de fácil visualização e compreensão. De inimigos físicos/corpóreos podemos fugir mais facilmente. Já de um algoz que virtualiza-se e age mediante trincheira informacionais apenas, fica bem mais difícil escapar, quiçá reconhecê-lo. Ainda mais em uma sociedade para a qual a informação é a um só tempo o chão físico e o éter metafísico que o encima. Eis a contemporaneidade.
Para dar corpo a essa invisibilidade estratégica dos aparatos totalizadores da sociedade de controle é de muita ajuda transcorrer as ideias que Vilén Flusser traz na sua obra Filosofia da caixa preta. Nesta obra temos a análise da informação em forma de imagem, exemplificada centralmente com a fotografia, cuja ideia chave, entretanto, é a da imagem técnica –em contraposição à imagem artística-artesanal-, e cujo aparato é a máquina fotográfica, instrumento que, mesmo desconhecida a sua maquinagem, gera o real que consumimos –imageticamente. Para Flusser, até mesmo o fotógrafo, que domina o aparelho –a máquina fotográfica- na verdade conhece apenas o input e o output dessa caixa preta. Resultado: tanto os produtores quanto os consumidores desse mundo imagem técnica desconhecem o que se passa no interior da caixa preta, do aparato, da máquina central da sociedade de controle contemporânea.
Embora Flusser ressalte que as imagens são mediações entre homem e o mundo, com o propósito de representar esse mundo, as imagens técnicas –produzidas pelas caixas pretas- são janelas e não imagens. O observador-usuário, em vez de enxergar nas imagens técnicas as janelas imagéticas que denotam o aparato misterioso que as produz, bem como as suas pretensões totalizantes, em vez disso trata o real enquanto aquilo que seus olhos veem apenas, como se o que é visto fosse a realidade última, e não o sistema social de controle agindo através dessas imagens. As imagens técnicas, a qualidade e democratização que elas envolvem, têm o poder de fazê-las passar pelo real ele mesmo, fazendo-nos esquecer de que são apenas aparelhos ideológicos fortíssimos. Por isso, salienta o filósofo, “o que vemos ao contemplar as imagens técnicas não é ‘o mundo’, mas determinados conceitos relativos ao mundo”, conceitos esses já ideologizados, instrumentalizados para manter todos os que o observam imageticamente sob controle total; caixapretificados.
Flusser é categórico ao afirmar que a tarefa primordial das imagens técnicas é estabelecer o código geral que reunifique a cultura, que arranque os objetos da natureza e os aproxime dos homens. No entanto, mediante imagens técnicas produzidas por caixas pretas, essa aproximação significa a modificação estratégica de tais objetos. A ponto de, diz o filósofo, a fotografia passar a ser a realidade ela mesma. A um só tempo a desobjetificação dos objetos e a estratégica objetificação de significações que servem ao sistema de controle social. Ademais, tal inversão do vetor da significação caracteriza o mundo pós-industrial, arremata o autor tcheco.
E se na contemporaneidade é a fotografia do real o real ele mesmo, temos que, fiéis a Flusser, a decadência do objeto é a emergência da informação acerca dele. Pragmaticamente: pensamos e vivemos como as imagens técnicas –produzidas sabe-se lá como e por quem. As imagens técnicas pensam por nós; vivem em nós; são o mundo no qual vivemos. Resultado: somos vítimas da caixapretice aparelhística produtora de símbolos de controle. Mas, o filósofo não nos deixa esquecer: “a aparente objetividade das imagens técnicas é ilusória, pois na realidade são tão simbólicas quanto o são todas as imagens”. Dessimbolizá-las, reificá-las, decifrá-las, portanto, é reconstituir o real que tais imagens significam verdadeiramente. Esse real a ser decifrado, porém, é muito menos os objetos em si que as imagens técnicas representam do que a ideologia de controle por trás dessas representações técnicas do real, justamente o que permanece caixapretificado.
Em um mundo no qual o próprio real outra coisa não é senão as imagens técnicas que o traduzem e reportam massivamente, o real a ser dessimbolizado é justamente a intencionalidade oculta na eleição dos objetos que vivem nas imagens técnicas –que, de um ponto de vista marxista, é o velho fetiche da mercadoria-; os enquadramentos desses objetos nessas imagens técnicas –os rígidos pontos-de-vista que esse fetichismo imagético do real impõe-; e sobretudo a reprodução ao infinito e a distribuição em rede desses produtos técnicos ideologizados e essencialmente caixapretificados. “Toda crítica da imagem técnica deve visar o branqueamento dessa caixa”, indica Flusser.
Para relacionar Flusser à Castells sem muita delonga, uma importante colocação do primeiro: “programaticamente, aparelhisticamente, imageticamente … estamos pensando do modo pelo qual ‘pensam’ os computadores”. E para não deixar Deleuze e Foucault de fora dessa relação, cabe dizer que pensamos e vivemos conforme a nova noção de rede porque a sociedade de controle precisa que assim seja. Aqui vale apontar o alinhamento entre o tcheco e os dois franceses. Se para aquele “a cultura da Internet é a cultura de seus criadores”, é porque, para estes, a internet é o corpo que controla as sociedades contemporâneas. A rede informacional contemporânea, portanto, seria a própria sociedade de controle em forma de realidade, em forma de mundo, de imagem técnica indecifrabilíssima. A caixa-preta-mor, diga-se de passagem. Ou, dizendo melhor com as palavras de Flusser, “complexo de aparelhos, de caixa preta composta de caixas pretas”.
Agora, se, como colocou o pensador tcheco, a tarefa da filosofia da fotografia é apontar o caminho da liberdade em relação às imagens técnicas e à caixapretice do real ideologicamente imageticizado, pois, para Flusser, essa filosofia é a única revolução ainda possível -e urgentíssima!-, podemos dizer, em uma paráfrase, que a tarefa da filosofia da informação é fazer o mesmo, isto é: apontar o caminho da liberdade em relação à caixapretificação da produção e da distribuição da informação, outrossim produto ideológico das sociedades de controle, pois, para essa filosofia da informação, esse é o único movimento verdadeiramente revolucionário, e não mesmos urgente. Como, então, baseados na teoria de Flusser e nos apontamentos de Castells, Deleuze e Foucault, tal filosofia revolucionária é possível, ademais a partir de dentro da sociedade de controle informacional?
A primeira coisa a atentar é que, seguindo a ideia de Flusser, é o homem, e somente ele que pode produzir informação, bem como transmiti-la e guardá-la. E se são os próprios homens que são vitimados pela informação mediada pela sociedade de controle, é porque eles mesmos oferecem munição ao seu algoz. Assim como disse Étienne de La Boétie, qual seja, que os mil olhos e mil braços do tirano não são instrumentos que de fato sejam dele, visto que ele é um homem como qualquer outro, com dois olhos e dois braços apenas, mas são os mil braços e mil olhos dos que são tiranizados por ele, sequer é necessário os tiranizados irem até o forte do tirano para matá-lo. Basta que não mais doem seus braços e olhos, afinal, a arma com a qual a sociedade de controle nos mantém cativos dos seus desígnios e aparelhos, isto é, a informação, é produzida por nós, homens. Somos nós que produzimos as condições para a nossa própria servidão informacional: a informação, os aparelhos e as imagens técnicas com os quais somos subjugados.
Castells, entretanto, nos diz que as novas formas de interação social na Era da Internet têm poder para substituir as comunidades estabelecidas estrategicamente pelas sociedades de controle por comunidades baseadas em afinidades alheias a desígnios ideológicos extrínsecos. Cabe aqui trazer o anarquismo impertinente de Hakim Bey que constitui o seu conceito de TAZ (zona autônoma temporária). Mesmo que a sociedade de controle informacional seja A Zona de Dominação Absoluta na contemporaneidade, dentro dela essas redes sociais baseadas em afinidades alheias a desígnios ideológicos extrínsecos podem funcionar como TAZes, dentro do inimigo. Senão matando-o, ao menos reduzindo, ainda que efemeramente, sua onipotência.
Para tanto, aponta Castells, é fundamental que a arquitetura de interconexões seja ilimitada, descentralizada, distribuída e multidirecional em sua interatividade; que todos os protocolos de comunicação e suas implementações sejam abertos, distribuídos e suscetíveis de modificação. Claro, não devemos esperar que a própria sociedade de controle faça isso pelos controlados. São estes que, anárquica e coletivamente, devem abrir suas TAZes informacionais impertinentes no cerne da TAZ Totalitária. Afinal, onde há uma zona autônoma, ainda que temporária, na qual a sociedade de controle informacional não pode nem sacar nem incutir informações, tampouco verificar as que estão sendo trocadas lá, há o enfraquecimento do sistema de controle da sociedade contemporânea. Fundamental todavia, é que essa máquina, esse aparato, esse instrumento revolucionário que é a TAZ seja tão caixapretificada à sociedade de controle quanto essa mesma sociedade o é para os indivíduos que ela, por sua vez, controla opacamente. Usar a arma do inimigo contra ele mesmo! Esse é o passo mais econômico para a revolução.
Nesse sentido, o que podemos tirar de Castells é a proposta de redefinição do conceito de comunidade, baseada não mais nos ordenamentos ditados pelos sistemas de controle, mas no apoio aos próprios indivíduos tiranizados por tal ditadura e aos laços informacionais que eles podem travar entre si, a despeito da sociedade de controle que primeiramente os uniu/enclausurou inexoravelmente em torno da informação com o propósito exclusivo de controlá-los. Para o espanhol, o novo padrão de sociabilidade deve ser caracterizado pelo paradoxal individualismo em rede. Esta deve ser a nova forma dominante de sociabilidade contra a dominação das sociedades de controle informacionais. Para o autor, essa revolução pode se dar mediante a cooperação entre leis, tribunais, opinião pública, mídia, responsabilidade coorporativa, agências políticas, e, sobretudo, a partir da restauração da confiança recíproca entre os próprios indivíduos e, universalmente, entre os povos e seus governos. E para Castells isso é possível porque dependem exclusivamente da ação humana.
Deleuze reforça essa revolução dizendo que não devemos desistir porque estamos diante de uma sociedade –de controle- mais opaca que outras –a disciplinar, por exemplo. O francês coloca que em cada uma delas se pode enfrentar as sujeições e construir a liberdade. Portanto, nas palavras de Deleuze, “não cabe temer ou esperar, mas buscar novas armas”.
Que armas, todavia, são essas? Ora, se as sociedades disciplinares se estruturavam na assinatura e na localização do indivíduo em uma massa, e nas sociedades de controle, ao contrário, o essencial não é mais uma assinatura nem um número, mas uma cifra, isto é, uma senha, nossas armas contra o controle informacional é, retrazendo Bey à discussão, estabelecermos TAZes cifradas que possibilitem o acesso dos indivíduos anarquistas informacionais à informação que eles criam e que habitam suas TAZes. Contudo, mais importante de tudo, que rejeitem, que vetem, que cifrem o acesso do controle externo sempre que ele tentar adentrá-las. Se nas sociedades de controle das quais queremos nos ver livres os indivíduos tornaram-se “dividuais”, divisíveis, e as massas tornaram-se amostras, dados, nas sociedades revolucionadas pós-controle as TAZes informacionais devem ser indivisíveis, porque caixapfetificadas estrategicamente àqueles que querem tirar delas apenas amostras para dadificá-las. Por quê? Por que dentro da TAZ, assim como dentro da sociedade, é a vida que habita, e é ela que importa e que não pode ser reduzida. Aqui é fundamental saber o que realmente importa e o que é primeiro no conceito “vida em rede”. Vida, obviamente.
Para concluir, a revolução das sociedades de controle começa pela percepção de que, nas palavras de Flusser, “o que vale não é determinado ponto de vista, mas um número máximo de pontos de vista”. Como então instituir essa plurivocidade de perspectivas no cerne das monológicas sociedades de controle? Fixando-nos na metáfora da fotografia que perpassa a Filosofia da caixa preta, contra essa sociedades de controle foucaultianas, que outra coisa não querem senão fazer do real propriedade sua, a frase do pensador tcheco: “a distribuição da fotografia ilustra, pois, a decadência do conceito propriedade”. Afinal, ainda nas palavras do autor, “a práxis fotográfica é contrária a toda ideologia; ideologia é agarrar-se a um único ponto de vista, e o fotógrafo age pós ideologicamente”, ou seja, para além da ideologia que o quer controlar. Em suma, quanto mais houver indivíduos fotografando, tanto mais o sistema que quer dominá-lo será incapaz de decifrar o mundo de fotografias que eles produzem para si.
Se, como disse Flusser, “fotografias nos cercam”, porém, “toda fotografia individual é uma pedrinha de mosaico”, a Big Picture da realidade outra coisa não deve ser além do resultado mosaico das fotografias do real que cada indivíduo faz. Todavia, se essas imagens-informações que somente nós, homens, trazemos ao mundo, com as quais aliás as sociedades de controle nos dominam, não forem cifradas à essa mesma sociedade tirânica, ela fará, obviamente, com que o real seja ou o recorte, ou a rediagramação desse material que imanentemente produzimos.
Hipostasiando o que disse La Boétie, que os mil braços e mil olhos do tirano são os braços e olhos dos seus mil súditos, com Flusser podemos dizer que as mil imagens técnicas do sistema de dominação são as mil imagens individuais de cada um dos dominados; com Castells, que os mil nós da Galáxia da Internet Total são os mil usuários/terminais dessa mesma rede internética; e, por fim, com Deleuze e Foucault, que as mil informações com as quais as sociedades de controle subjugam seus mil controlados são as informações produzidas, mais ainda, encarnadas, imanentemente, por esse mil controlados. Basta, portanto, atendendo ao conselho de La Boétie: não darmos ao tirano nossos braços e olhos, melhor dizendo, nossos nós na rede da internet, nossas imagens individuais, nossas informações. Em uma palavra, devemos cifrar-nos contra os sistemas que tentam nos controlar. Já entre os “anarquistas” beyanos libertos do controle externo no interior seguro de suas TAZes impertinentes, código aberto e infinito, pois assim deve ser a vida.