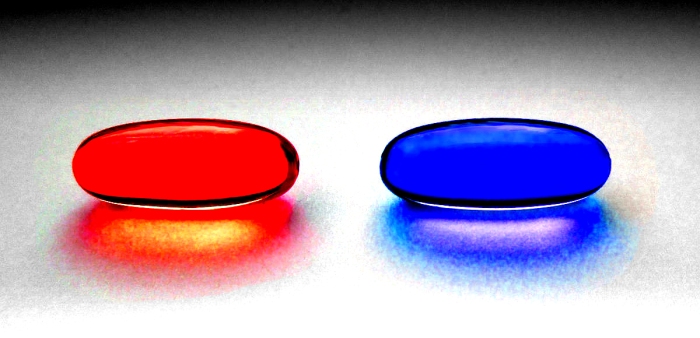A expressão “proletário-de-si-mesmo” seria algo redundante, uma vez que o proletário, de certa forma, já é um “si-mesmo”: aquele que, solitariamente, vende sua força de trabalho para sobreviver, e assim mesmo permanece, mais ainda, assim deve permanecer para o bem do capitalismo. Se aqui invisto nesse pleonasmo é para criticar o contemporâneo, e cada vez mais investido, conceito de “empresário-de-si-mesmo”: sujeito que, como o proletário, também vende a sua força de trabalho no mercado, mas que, antes disso, e sobretudo para isso, já “trabalha”, investe, árdua e não-remuneradamente, para estar a altura das necessidades daqueles que, com sorte, comprarão a sua força de trabalho para explorá-la.
Antes de prosseguir, é importante percorrer os significados históricos da palavra “proletário”. A expressão “proletari” surge na Roma antiga para designar os cidadãos da classe mais baixa que, despossuídos de quaisquer bens materiais, tinham por única função social gerar prole para ser usada pelos exércitos. Muitos séculos mais tarde, Karl Marx reutiliza o termo para, comezinhamente, diferenciar os trabalhadores dos burgueses capitalistas, porém, mais especificamente, para diferenciar os trabalhadores conscientes do seu papel social e histórico daqueles que não adquiriram tal consciência.
Marx, compreendendo, de um lado, que o motor da História é a luta de classes – como lemos no “Manifesto Comunista” -, e, de outro lado, que a riqueza social é medida com base no tempo de trabalho necessário para produzir mercadorias – ideia presente em “O Capital” -, enxergou nos trabalhadores, os indivíduos despossuídos de bens que no entanto produzem a riqueza, a classe que tem por destino vencer a substantiva luta das sociedades humanas. Mas isso, prega Marx, somente se o trabalhador se proletarizar. O eternizado lema dessa revolução jaz no Manifesto: “Proletários de todo o mundo, uni-vos!”
Dessa perspectiva, é fácil entender porque, atualmente, a “identidade proletária” é sistematicamente desmantelada pelo sistema capitalista, afinal, este sabe, como Marx, que se seguir comprando a força de trabalho daqueles que, unidos, irão derrotá-lo, estará com isso dando um tiro no próprio pé. O ideal de “empresário-de-si-mesmo”, ao contrário, cinde os trabalhadores em unidades autônomas e competidoras entre si, destruindo assim qualquer possibilidade de uma consciência global entre aqueles que produzem a riqueza das suas sociedades.
O problema mais grave, contudo, é o fato de os próprios trabalhadores contemporâneos rejeitarem a sui generis identidade revolucionária que tão somente lhes cabe. Vestidos com o sofisticado uniforme de “empresários-de-si-mesmos”, são, na verdade, demasiadamente reacionários: reencarnam os seus antigos ancestrais romanos que, assim como eles, não são senhores da riqueza social, permanecendo como meros “produtores de população”, só que agora para a “guerra mundial” do capital. Rejeitar a identidade proletária tem um amargo preço: abrir mão da revolução.
Marx cunhou a expressão “lumpenproletariat” (lumpemproletariado) para designar os trabalhadores que, sem consciência de classe, ou o que é o mesmo, sem unirem-se a outros trabalhadores em um grande corpo proletário consciente, atendiam subservientemente aos interesses da burguesia. Se em alemão “lumpen” significa “trapo”, “farrapo”, a sua célebre significação marxiana é: “seção degradada e desprezível do proletariado”. A radical escolha do trabalhador, portanto, é, ou unir-se, conscientizar-se, proletarizar-se, ou, em vez disso, desunir-se, ser eternamente explorado, lumpemproletarizar -se.
Essa besta capitalista chamada “empresário-de-si-mesmo” tem o vício de fazer da virtude proletária um trapo, um farrapo. Hoje em dia, cada vez mais vence a ideia de que é degradante para um trabalhador identificar-se com a condição de trabalhador, e, pior ainda, com a de proletário. Só que, sendo absolutamente marxista, não é difícil concluir que essa “nova ideologia” esconde o fato de que o “empresário-de-si-mesmo”, essencialmente, é um lumpemproletário: aquele que mais subservientemente está a serviço da burguesia.
Sem embargo, aqueles que gastam, em média, trinta anos de suas vidas, sem dizer uma imensa quantidade de dinheiro, para estudarem, especializarem-se, falarem no mínimo três idiomas, vestirem-se adequadamente, responsabilizarem-se privadamente pelos seus planos de saúde e de aposentadoria, e tudo isso apenas para poderem vender as suas forças de trabalho à burguesia para, doravante, serem explorados por ela como qualquer trabalhador, são o que senão a “seção degradada e desprezível do proletariado” que, lumpenproletariamente, faz tudo o que seus opressores burgueses mais querem?
O “empresário-de-si-mesmo” é um monstro social do mesmo calibre que a “classe média”. A classe dominante, para mais-dominar, precisou nublar o fato de que as sociedades são constituídas por duas únicas classes: a dominante e a dominada. Então, inventou essa “classe” intermediária, que, na verdade, é constituída por indivíduos da classe dominada, que, entretanto, não mais se reconhecem como tais. São realmente dominados, porém, ideologizadamente dominantes. Não se unem mais aos interesses de seus pares, mas, burra e manipuladamente, aos de seus ímpares.
O pecado capital do “empresariado-de-si-mesmo” está em desistir do poder sui generis que Marx enxergou no proletariado, esse corpo de trabalhadores autoconsciente do seu papel histórico e essencialidade social que, somente enquanto proletariado, unido, é o agente da revolução que dará cabo da exploração que sofre. O “empresário-de-si-mesmo”, com efeito, está muito mais próximo do baixo cidadão romano, cativo da rígida e tradicional estratificação social antiga, que se já não tinha chance de mudar a sua condição, menos ainda podia revolucionar a sua sociedade.
Agora é a ocasião de desinvestirmos de vez a redundante expressão “proletário-de-si-mesmo”, usada inicialmente para criticar a besta social chamada “empresário-de-si-mesmo”. E isso para defender que enquanto “si-mesmo” um trabalhador é apenas um lumpemproletário. É precisamente por deixar de ser “si-mesmo” para formar um corpo unido e consciente com os demais “si-mesmos” como ele que o trabalhador deixa de ser um “lumpen”, um trapo velho e desprezível nas mãos daqueles que compram a sua força de trabalho, e veste a farda com a qual revolucionará a sociedade.
Já o “empresário-de-si-mesmo”, ao contrário, é um “si-mesmo” deliberada e demasiadamente ensimesmado; isolado dos seus iguais, e o que é pior, concorrente deles. Em outras palavras, é um lumpemproletário que se enxerga como burguês – assim como a classe média é a classe dominada que se vê como dominante. O único “si-mesmo” que pode existir com alguma dignidade social é o trabalhador. Não obstante o sistemático furto dessa dignidade pelos “detentores dos meios de produção”, isto é, os burgueses, os trabalhadores deve proletarizarem-se. Por isso, em vez de “proletários-de-si-mesmos”, e de modo algum “empresários-de-si-mesmos”, todos nós que trabalhamos devemos ser, em primeiro lugar, “proletários-mesmos”!