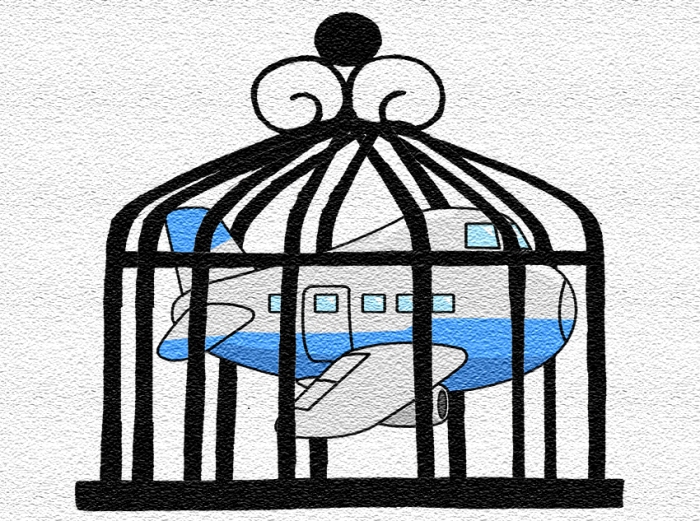O terrorismo sofreu um ataque terrorista! E o que é pior, dos Estados nacionais e da mídia internacional; em suma: do capitalismo ele mesmo, o grande e verdadeiro líder mundial. O objetivo número 1 desse “inimigo alfa”, obviamente, é alienar qualquer pretensão revolucionária da sua mais radical, todavia indispensável estratégia diante das não menos radicais e terroristas forças contrarrevolucionárias que encontrará pelo caminho. A melhor imagem do que estão querendo furtar do revolucionário é o “Terror Vermelho”, que, nas palavras de Leon Trotsky: “é uma arma usada contra uma classe [a burguesia] que, apesar de ter sido condenada à destruição, não quer morrer”.
Demonizar absolutamente o terrorismo, empreendimento contemporâneo ferrenho, é talvez o maior terrorismo porque, de certa forma e em certa medida, e ao contrário do que se repete histericamente, o terror pode ser uma passagem a uma dimensão existencial mais estimulante e libertária. Exemplo excelente de um bom-terrorismo é o “Terrorismo Poético”, que, de acordo com seu apólogo mor, o pensador anarquista Hakin Bey, “é a estética da conquista no lugar da política do medo” -esta última, compartilhada tanto pelos maus-terroristas quanto pelo Estado, o pior de todos.
De forma alguma se pretende aqui elogiar, por exemplo, os atos de terror do Estado Islâmico nem tampouco os dos lobos solitários, rebentos viciosos daquele. Muito pelo contrário. O que se quer pensar, na verdade, é justamente a ausência de poesia no terrorismo que vemos no mundo. Tal carência, por um lado, faz com que ele seja peremptoriamente condenável, como de fato está sendo; e, por outro lado, nubla completamente a sua potência para conduzir-nos –radicalmente, é preciso admitir- a um futuro no entanto melhor, no qual nem o mau-terrorismo, nem o terrorismo-de-Estado tenham lugar.
Para tanto, é necessário separar o joio do trigo. E a peneira é poética! Se em grego “poein”, isto é, poesia, significa “fazer, compor”, de um lado, devemos reconhecer quais atos considerados por nós como “terroristas” são somente negativos, isto é, apenas destroem realidades sem nada colocar nem propor no lugar delas. Estes seriam então os verdadeiramente condenáveis e dispensáveis. Por outro lado, distinguir quais desses atos de fato são ou podem ser positivos, ou seja, capazes de colocar algo melhor no lugar das ruínas que instauram no mundo. Ou ainda, ao menos fazerem delas símbolos –e por que não poéticos?- que estimulem o mundo à mudança necessária.
Exemplos desses últimos sobram em “Terrorismo Poético e Outros Crimes Exemplares”, obra anárquica de Hakim Bey. Eis alguns deles: “escolha alguém ao acaso & o convença de que é herdeiro de uma enorme, inútil & impressionante fortuna –digamos, 5 mil quilômetros quadrados na Antártida, um velho elefante de circo, um orfanato em Bombaim ou uma coleção de manuscritos de alquimia… Coloque placas de bronze comemorativas nos lugares (públicos ou privados) onde você teve uma revelação ou viveu uma experiência sexual particularmente inesquecível etc.”
A superfície aparentemente alienada dos atos poético-terroristas sugeridos por Bey, todavia, não deve repelir os revolucionários, mas, em troca, estimulá-los a mergulhar mais fundo nas possibilidades esquecidas ou inexploradas do terror, para com sorte encontrarem nele virtudes, senão para substituírem totalmente a violência de que não poderão dispensar-se na contraofensiva mais do que esperada do inimigo, ao menos para darem tons menos burocráticos às suas ofensivas.
Bey assegura que a feliz “vítima” de um Terrorismo Poético “mais tarde perceberá que por alguns momentos acreditou em algo extraordinário & talvez se sinta motivada a procurar um modo mais interessante de existência”. E porventura não é essa a essência do revolucionário: crer, de dentro da distopia que o angustia, na possibilidade da sua utopia libertária? Com Bey, portanto, podemos ver que o terrorismo pode ser louvável, desejável, pois ao menos em sua forma poética, diz o pensador, “ataca, não seres humanos, mas ideias malignas, pesos mortos na tampa do caixão dos nossos desejos”.
De acordo essa lógica, o terrorismo, desde que poetizado, é bom porque assassina violentamente ideologias aprisionadoras; explode os pesados monumentos que elas se tornam dentro de nós. Atuando dessa forma, o equilíbrio de forças que, aqui, é desfavorável, poderá, ali, ser invertido. “Trame & conspire, não pragueje nem gema… Seja brutal, assuma riscos, vandalize apenas o que deve ser destruído, faça algo de que as crianças se lembrarão por toda a vida”, ensina o anarquista.
Decerto faltou muita poesia à monstruosa pressa revolucionária de Stalin e às suas todavia sábias palavras: “o Terror é a maneira mais rápida de se criar uma nova sociedade”. Diferente do Terrorismo Poético que, para Bey, “é um ato num Teatro da Crueldade sem palco”, o terror stalinista fez na verdade um e grande ato, só que extremamente cruel dentro do velho Teatro da Crueldade que queria dar cabo. Dito de outro modo: deu palco excelente à crueldade. Forçando mais ainda a ideia, Stalin duplicou a crueldade que já havia, todavia com o seu outro-novo travestido de esperança comunista.
O que faltou ao terror de Stalin, colocado a serviço do seu obsessivo amor à revolução, foi algo muito simples proposto por Bey: “entender que amar & libertar são o mesmo ato”. E quem sabe só mesmo a presença da poesia para não deixar qualquer terrorista esquecer dessas duas dimensões humanas, demasiado humanas: o amor e a liberdade. Só que a philia de Stalin pelo seu ideal -para muitos, apenas por si mesmo-, apoético e extremamente despótico, precisava de liberdade apenas para si mesmo. E, nas palavras de Bey, “cada um dos que entram no reino do Imã-de-seu-próprio-ser transforma-se num sultão de revelação inversa, num monarca da anulação & da apostasia”. Em suma, um mau-terrorista. Ou o que é o mesmo: um não-revolucionário.
Para que o terror não se alheie do seu horizonte revolucionário ele precisa ser sempre poetizado. Do contrário, absolutamente pragmático, frio e calculista, só lhe resta mesmo a condenação universal. Mesmo que o ato do revolucionário seja sempre considerado criminoso da perspectiva do inimigo (o Estado burguês e suas leis), ele é necessário conquanto seja, nas palavras de Bey, “não crimes contra o corpo, mas contra Ideias que sejam letais & asfixiantes. Não libertinagem estúpida, mas crimes exemplares, estéticos, crimes por amor”.
Aqui devemos entender que, para o revolucionário socialista, o horizonte comunista é o objeto desse seu amor, digamos assim, criminoso! O melhor terrorismo poético “é contra a lei, mas não seja pego!” –adverte Bey. Revolução como crime; crime como revolução. Bom exemplo de “Crimes Exemplares” são os de Robin Hood, que roubava dos ricos para dar aos pobres – e não os de Stalin, que espoliou o povo da pouca liberdade que tinham para com ela engordar a sua burocracia odiosa e ineficiente.
O terror poetizado nunca é demasiado. Tem e deve ter a sua medida. Segue a regra de Paracelso que diz que “a diferença entre o remédio e o veneno está na dose”. E não é total porque, como bem colocou Bey, “qualquer um que consiga ler a história com os dois hemisférios do cérebro sabe que o mundo termina a todo instante… e a todo instante também é gerado um mundo novo”. O “bom terrorista-alquimista”, portanto, sabe que o terror e a poesia que aplica ao mundo para que este não escape à lei do devir não é condição sine qua non a “um mundo novo”, mas um estímulo para que ele não deixe de proceder quando forças reacionárias tentam impedi-lo.
E por acaso esse terror comedido -senão poetizado, ao menos profetizado- já não estava já nas ideias de Marx quando ele disse que o Terrorismo Revolucionário é “um meio de reduzir, simplificar e concentrar a agonia dos assassinos da antiga sociedade e as dores do parto sangrentas da nova”? A dose paracelsiana, metáfora perfeita para a dose beyana entre terror e poesia, se devidamente ministrada pelo revolucionário há de legar um resíduo alquímico muito importante: o elixir homeopático capaz de nutrir e manter saudável esse “mundo novo” que se sucede de qualquer terror positivo.
O revolucionário não precisa ser absolutamente terrorista, pois, como diz Bey, “cada um de nós possui metade do mapa… As fronteiras imaginárias da nossa cidade-Estado se borram com o nosso suor”. Metade da tarefa já está feita. A parte do terror que se pode e se deve dispensar de produzir é justamente aquela que já está dada e mantida pelo Estado. Não é o caso de, ou roubá-la, ou recriá-la. Isso seria burrice: assumir o crime do inimigo criminoso. Basta que redirecione, mediante uma virtuosa poesia terrorista, esse terror pré-existente contra o seu velho proprietário.
Trapaça/estratégia muito antiga das artes marciais em geral, o terrorismo poético também é o uso da força do adversário contra ele mesmo Assim como, diz Bey, “os Terroristas-Poéticos comportam-se como um trapaceiro totalmente confiante cujo objetivo não é o dinheiro, mas TRANSFORMAÇÃO”, assim também o terrorista revolucionário -que outrossim não tem no dinheiro a sua meta, pois essa é a do seu inimigo, a burguesia- deve trapacear com segurança para trazer ao mundo a transformação positiva que projetou para ele.
O terrorista-poético-revolucionário deve, não só inventar, como principalmente comedir o terror de seus atos. E isso porque a energia envolvida na instauração de qualquer terror não é suficiente para sustentar o “novo mundo” que ele inaugura. É preciso guardar forças para o amanhã. Aqui vale lembrar da incredulidade de Slavoj Žižek em relação aos “revolucionários” do filme “V de Vingança”, que, para ele, é a mesma da atual esquerda mundial. Nas palavras do filósofo: “o filme termina com cidadãos mascarados tomando o Parlamento. Eu adoraria mesmo é assistir V de Vingança, parte 2. O que eles fariam no dia seguinte, como reorganizariam a vida cotidiana?”
O bom-terrorista, o verdadeiro revolucionário, ou seja, aquele que cria e mantém um mundo melhor, além de não poder se furtar à poesia, uma vez que só ela adocica o que, do contrário, restaria absolutamente amargo; em palavras menos poéticas: aquele que adequa o terror à capacidade humana de suportá-lo; este bom-terrorista deve também sobreviver ao seu próprio terror, tanto para prosseguir o trabalho que começou -afinal, é melhor não confiar os próprios sonhos apenas aos outros-, quanto para fruir desse “mundo novo” que não teria vez sem o seu terror poético.
Mesmo que essa boa aventura revolucionária seja interrompida abruptamente pelo contra-ataque inimigo, diz-nos Bey, “uns poucos dias liberto do Império das Mentiras já pode muito bem valer o sacrifício”. Entretanto, prossegue o escritor anarquista, “nossa posse sobre ele é seriamente comprometida se precisamos cometer suicídio para preservar sua integridade”; advertência, aliás, que seria muito bom os nossos cada vez mais numerosos lobos solitários terem em mente.
A arte de bem dosar terrorismo e poesia, cujo ouro alquímico é a verdadeira revolução, portanto, exige do terrorista-poético-revolucionário que exercite a sua criatividade, a sua imaginação, pois o seu inimigo mais belicoso, a besta capitalista, por seu turno, é assaz criativa e imaginativa. E o que é mais ameaçador, o capitalismo e, segundo Bey, também “os bancos transmutam a Imaginação em fezes & dívida. O mundo não ganharia um pouco mais de beleza com cada banco que tremesse… ou caísse?” –pergunta-nos o anarquista.
Indivíduos apoetizados, e aí não importa se cidadãos apassivados ou se terroristas ideologicamente autoativados, apenas seguem, nas palavras de Bey, “engatinhando pelas frestas entre as paredes da Igreja, do Estado, da Escola & da Empresa, todos monolitos paranoicos”. Agora, em troca, encantados pela musa poética, ambos aqueles já podem começar as suas cruzadas uma vez que já possuem no mínimo poderosas e irresistíveis bombas imaginárias, as únicas capazes de explodir o inimigo no seu cerne imaterial, ideológico.
Um terrorista que ataque o inimigo em sua materialidade, além de não poder ser chamado de poético, tampouco de revolucionário, deixa viva justamente a “alma” do mal ao atacar apenas o seu “corpo”. Começar pela poesia, ou ao menos fazê-la acompanhar desde o princípio qualquer ideia de terror, é manter firme a indicação de que o espírito do inimigo, sua ideia insuportável, é o mal a ser enfrentado e destruído. Assim como com qualquer animal, sem a anima seu corpo cai imediatamente.
Objetivamente, o equilíbrio entre poesia e terrorismo a ser buscado pelo terrorista-poético-revolucionário em função de seus choques-políticos-estéticos tem que resultar, conforme coloca Bey, em “uma emoção pelo menos tão forte quanto o terror –profunda repugnância, tesão sexual, temor supersticioso, súbitas revelações intuitivas, angústia dadaísta” etc. Emoções que tirem as suas vítimas afortunadas dos lugares-comuns-passivos onde estavam e sobretudo não permitam voltem nem se reconformem a eles.
Todas as velhas, pálidas e arraigadas emoções e ideias que temos são apenas Prozacs ideológicos que, há muito a serviço do inimigo, apenas mentem nos salvar daquilo que na verdade nos dana. Porém, afirma Bey, “devemos ser salvos de todas as salvações que querem salvar-nos de nós mesmos, do animal que é também nossa anima”. Deixemos então esse animal explodir na sua raiva natural, com toda a sua potência e capacidade transformadora. Basta que o nosso terror seja mais poético do que despótico; mais positivo do que negativo; mais convidativo do que repugnante; mais aplaudido do que condenado.
Misture terror e poesia e perceba onde você e seu mundo chegam. “Não apenas sobreviva enquanto espera que a revolução de alguém ilumine suas ideias… Aja como se já fosse livre… Carregue seu passaporte mouro com orgulho… Dance antes que fique calcificado… Acenda seu cigarro com a espoleta chamuscada de um rojão negro”, intima Bey. Realize seus sonhos; faça a sua revolução; pois, se for virtuosa, será a revolução de todos nós. Em uma palavra: realize-se. Até porque, como bem disse Bey, “o único conflito verdadeiro é entre a autoridade do tirano & a autoridade do ser realizado –todo o resto é ilusão, projeção psicológica, verborragia”.
Confie na virtude que a poesia traz ao terror. Embebede-se com o seu próprio potencial poético-terrorista. Isso já é revolução. “Um bronco não percebe eros nenhum num champanhe fino; um feiticeiro pode se embriagar com um copo d’água”, diz Bey. E se você não for capaz de se inebriar com um ato terrorista-poético como o que o pensador anarquista descreve no seu livro, qual seja: “cole em lugares públicos um cartaz xerocado com a foto de um lindo garoto de 12 anos, nu & se masturbando, com o título bem à vista: ‘A FACE DE DEUS’”, desculpe-me, você nunca será revolucionário, tampouco poético, somente um mau-terrorista. E isso porque a carência de poesia outra coisa não significa que a incapacidade de pôr um mundo novo e melhor no lugar de um velho e pior.
____________________________________________
Texto publicado em: https://gz.diarioliberdade.org/opiniom/item/45060-poesia-e-terror-alquimia-revolucionaria.html