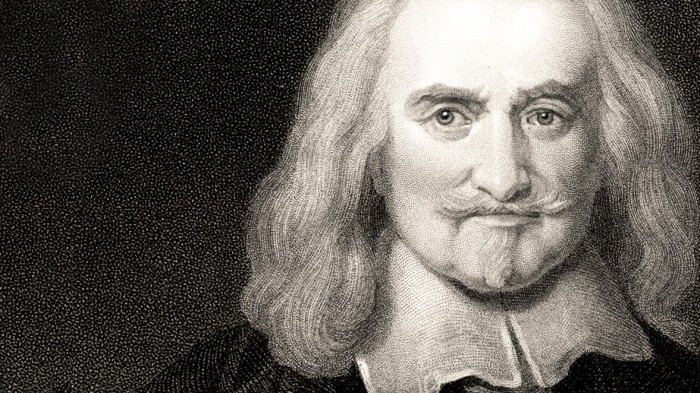“Deus é brasileiro”, aquela expressão tão popular quanto ingênua, está sendo customizada pela mais histérica ignorância a ponto de os antigos conterrâneos dEle estarem já acreditando que “brasileiro é Deus”. “Hilary Clinton é comunista”; “Lula é o maior quadrilheiro da história do Brasil”; “filosofia, sociologia e arte são coisas de vagabundo”; e até mesmo a maior irrealidade de todas, “Cunha salvador”; é o que senão a plena ignorância mundana pretendendo-se onisciência divina?
Querer fazer destas afirmações verdades absolutas, se não é pretender agir como Deus, ou seja, criar o mundo do nada, é ao menos a mais pretensiosa demiurgia, isto é, a tentativa de fazer com que uma coisa seja absolutamente outra. É justamente isso o que acontece no Brasil: basta empunhar e tilintar uma panela aqui, vestir a camiseta da corrupta CBF ali, e, voilá, eis um novo “real” circulando pelas ruas do Brasil, por mais que a realidade ela mesma afirme o contrário.
Ora, se lá nos EUA Trump diz que imigrantes e muçulmanos devem ser expulsos porque assim ele deseja, e no Brasil Aécio sustenta que a voz do povo – que até então era a voz de Deus – errou ao eleger Dilma, por que cargas d’agua qualquer cidadão brasileiro não pode fazer o mesmo e inventar uma real para si? Se hoje em dia até os mais pobres sentem-se capazes de criar o mundo que lhes passa pela cabeça, imagina as elites, cuja vantagem é crer que compartilham a riqueza do mundo com aqueles dois “deuses caídos & reacionários”.
O problema é que essa produção de mundos inexistentes não chega nem perto de se colocar como utopia, ou seja, como imaginação de um mundo futuro libertador. Pior ainda, tem o vício de ser uma distopia, isto é, a ideia de um futuro decadente e opressor, só que trazido fortuitamente para o presente. Pressa em adiantar o apocalipse?
O brasileiro, enquanto um Ansioso Deus Distópico, remete ao que disse Slavoj Žižek no seu livro “O sofrimento de Deus”, qual seja, que “adotar uma postura apocalíptica é a única maneira de mantermos a cabeça fria”. Para o filósofo, isto faz sentido na medida em que querer se preocupar com o futuro a partir do que o presente está fazendo com ele é realmente não ter mais mas paz de espírito alguma.
E é exatamente isso o que a maioria dos brasileiros está fazendo: trazendo o caos que o capitalismo globalizado produtor de desigualdade e opressão sempre coloca no nosso horizonte para o exato agora. Assim a angústia dessa espera vira coisa do passado, mesmo que o preço para tal seja viver o “Apocalipse Now”. Mas por que o imediatismo contemporâneo é distópico & reacionário, e não “utopique et révolutionnaire?
Onde foi que a ideia de revolução frustrou o povo brasileiro a ponto de, hoje em dia, a maioria marchar deliberada e reaccionariamente? Longe de ser revolucionário, é preciso dizer, o lulismo no entanto foi a nossa maior aproximação da velha utopia de igualdade social, de divisão de renda e de oportunidade para todos. Seria porventura a timidez, e a consequente incompletude desse “socialismo à lá Lula” a razão da atual e massiva recusa a essa tentativa?
Se, como se diz, “Deus mora nos detalhes”, e, como está sendo dito aqui, o brasileiro pós-Lula comporta-se como se fosse Deus, uma boa conclusão para esse silogismo é o fato de o brasileiro ter se sentido apenas um detalhe desde o governo Lula. O problema é que antes, até o governo FHC, o povo era um detalhe ainda mais irrelevante, e que é exatamente o oposto com o governo Lula no qual o povo foi “a” preocupação central
Talvez esteja aí a chave da questão: enquanto o povo permanecia realmente um detalhe esquecido na realidade socioeconômica brasileira, ele não sabia que o era. Somente depois de Lula ter tentado fazer desse histórico detalhe menor, o povo, o centro focal da sua obra política, mas no entanto não tê-lo feito completamente, como uma crítica acurada precisa apontar, foi que este povo reconheceu-se como detalhe, ainda que minimamente focalizado como, nas palavras do próprio Lula, “nunca antes na história desse país”.
É como se a maioria da população tivesse chegado à conclusão de que “não deu”; “nem o Lula, o nosso grande pai, conseguiu nos salvar”; “deu-nos uma televisão de plasma aqui, um carro popular ali, uma viagem para a Europa acolá, mas consciência de classe que é bom para podermos revolucionar a realidade que desde sempre nos oprime, ah, isso ele não fez”. E o povo tem razão em se revoltar contra esse pai incompleto qual adolescente rebelde.
Fugimos então da casa da velha democracia; abandonamos o lar da razoabilidade; e nos refugiarmos debaixo da “Ponte para o Futuro” que o passado nos oferece espetacularmente. Aceitamos as pedras de crack políticas que os golpistas no oferecem para fumar, que, ao passo em que nos aliena da nossa presente frustração, rouba-nos a possibilidade de sermos saudáveis, livres e respeitados.
“Ah, Pai Lula e Mãe esquerda, vocês não me amaram o suficiente! Então vou dar motivos para vocês não me amarem de verdade: vou me entregar à droga da direita! Eis o que acontece. Qual Lúcifer caído, arrogamo-nos o direito de sermos deuses ou semideuses nós mesmos, criadores ignorantes de nossa realidade menor. Demiurgos incompetentes cujo destino é viver no inferno. Era ou não melhor quando o brasileiro acreditava apenas que Deus era conterrâneo seu?