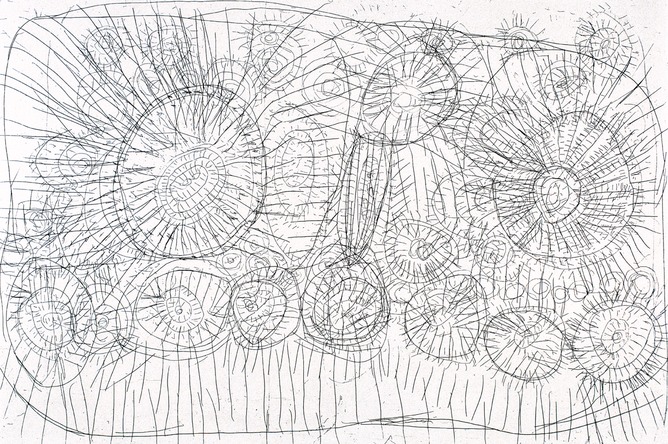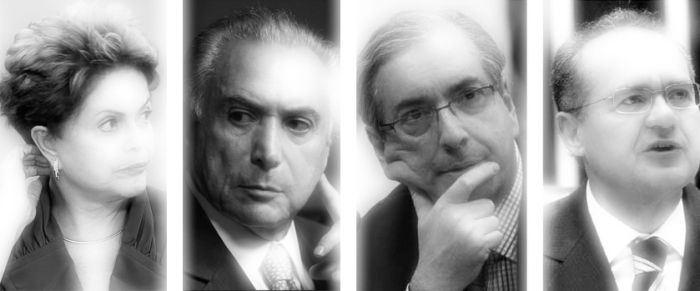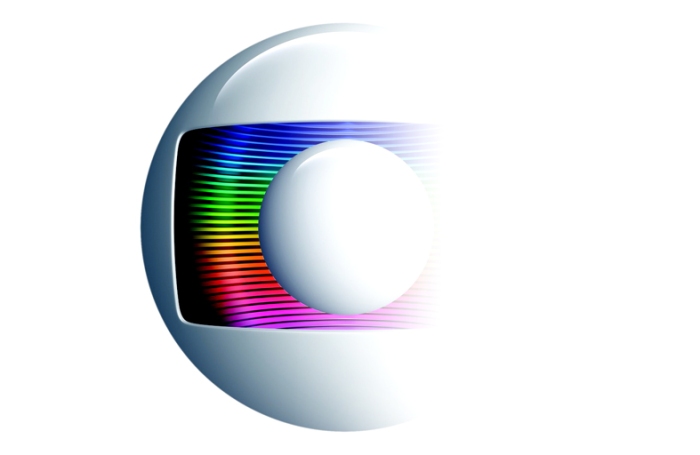Depois de o Brasil ter se sensibilizado coletivamente com a jovem carioca de 16 anos estuprada por 30, 33 ou 36 homens em uma favela do Rio de Janeiro, e se apavorado com as centenas de comentários misóginos pró-estupro que pipocaram nas redes sociais –espécie de sobre estupro contra as mulheres em geral-, relatos de alguns dos envolvidos no estupro coletivo e de amigos da vítima põe em cheque a veracidade do fato. Não que o estupro em si mesmo deva ser relativizado, barbárie machista e extrema que é e sempre será. Porém, a sensibilização imediata e massiva da sociedade brasileira ao estupro que pode nem ter ocorrido revela uma ferida machista viva e exposta em torno desse assunto que, ao menor toque, dói muito, e coletivamente.
Um áudio que circulou na internet depois da manchete do “estupro coletivo”, no qual um dos supostos estupradores diz que a garota em questão não foi estuprada, mas deliberadamente quis transar com o ainda não definido contingente masculino, desafia nossa compreensão. Segundo o suposto estuprador, mas também depoimentos de conhecidos da garota, e inclusive postagens que a própria jovem costumava fazer nas redes sociais, ela gostava de fazer sexo com um grande número de homens, ademais, envolvidos no tráfico de drogas. Afirmam que ela trocava sexo por drogas, ou seja, espécie de prostituição. No entanto, que o suposto estuprador queria dizer no seu depoimento, mesmo sem dar o nome certo ao boi, é que a garota era uma ninfomaníaca –como a personagem do filme de Lars von Tries que o mundo não se privou de prestigiar massivamente.
Para evitar confusão, contudo, é preciso já esclarecer que tal preferência sexual, bem como qualquer outra, de forma alguma justifica um estupro, como muitos dos comentários perversos que se seguiram nas redes sociais tentavam dizer. Com efeito, não é porque a garota gostava de fazer sexo com muitos homens – tampouco porque não estava em casa, na igreja, na escola; nem porque usa drogas ou por ter engravidado aos 13 anos- que podia ser estuprada. Nada justifica tamanha barbárie. É preciso sustentar isso absolutamente.
Não obstante, pelo menos três informações devem ser avaliadas para não deixarmos nossos sentimentos e opiniões denominarem de estupro o que pode ter sido um ato de liberdade sexual plena de uma mulher. A primeira delas, disseram o suposto estuprador delator e alguns conhecidos da garota, é que ela costumava fazer sexo, e com certa frequência, com muitos homens ao mesmo tempo. Postagens no Facebook da própria menina deixam isso claro. Quais sejam: “hoje vou dar geral”, “se eu der pra três hoje vai ser pouco”. Novamente, tais atitudes de forma nenhuma justificam estupro, mas devem nos levar a considerar que o que ocorreu foi sexo coletivo consensual.
A segunda informação, dada pelo suposto estuprador, e que é bem plausível, é que, nas palavras dele, “não rola estupro na favela”. Com efeito, e felizmente, estupro é uma barbaridade imperdoável não só no “asfalto”, mas também na “favela”. Qualquer sujeito acusado de estupro nas comunidades é torturado e morto pelas milícias –assim como os estupradores presos são espancados e sodomizados até a morte nos presídios. Então, é muito improvável que alguns dos 30, 33 ou 36 supostos estupradores tenham postado vídeos e fotos da garota após o ato sexual coletivo se se tratasse de estupro. Ao contrário do que a opinião pública imediatamente pensou, que os vídeos, fotos e comentários eram troféus fálicos e perversíssimos dos estupradores, tais publicações, em caso de estupro, seriam, para o modus operandi das milícias, espécie de carta de morte.
A terceira informação a qual vale atentar é que, segundo relatos, o sexo grupal e consensual só foi chamado de estupro coletivo pela garota e por sua família porque os tais vídeos e fotos se tornaram públicos. Amigos dela dizem que os pais da menina sabiam da preferência ninfomaníaca da filha, embora desaprovassem, mas que, no momento em que todos estavam sabendo disso, por vergonha e para preservarem a imagem da garota e da família, mudaram o nome do que de fato ocorreu. Já não devia ser fácil para estes pais conviverem privadamente com a sexualidade excêntrica da filha, Imagina então terem de fazer o mesmo publicamente. Para restaurarem a reputação da filha diante da opinião pública, não é absurdo conceber que tenham dito que ela foi forçada ao que deliberadamente costumava fazer. Apesar de mentirosa, tal estratégia é humana, demasiado humana.
Porém, antes dessas informações, a ideia de estupro coletivo chocou a sociedade imediata e violentamente. Inclusive resiste em deixar de ser chocante mesmo depois de aclarado que a garota desejava e procurava experiências de sexo com muitos homens. Essa possível tática dos pais da garota de 16 anos de chamarem de estupro a consequência concreta da ninfomania da filha seja talvez a expressão particular de um tabu universal da nossa sociedade: negar às mulheres em geral a liberdade total em relação aos seus próprios desejos. Para a tacanhice machista da nossa sociedade, se se tratasse de um garoto de 16 anos que deliberadamente tivesse transado com 30, 33 ou 36 mulheres, de modo algum dele seria dito que padece de satiríase –o correlato masculino da ninfomania- nem que foi estuprado, mas que é um sortudo, ou o que é pior, homem de verdade. E por acaso o harém não é a instituição criada especialmente para os mais poderosos satiríacos?
É preciso considerar que, assim como os pais da garota se alienam da manifesta e radical ninfomania da filha ao dizerem publicamente que ela foi violentada, o restante da sociedade, que se chocou instantaneamente com o dito “estupro coletivo”, também prefere ver estupro – crime- onde há, na verdade, o exercício irrestrito da liberdade de um mulher em relação aos seus desejos. Como a nossa sociedade machista dormiria em paz se o que foi chamado de “estupro coletivo” de uma menina de 16 anos fosse de fato apenas mais uma e corriqueira experiência sexual de uma jovem mulher? “Não” -grita a fálica opinião pública- “isso é estupro. Afinal de contas, mulher alguma pode desejar isso para si”. Fica escondido aí, contudo, que é a própria sociedade machista que não quer isso para as mulheres.
Não podemos esquecer de que, atualmente e por conta da intercomunicação virtual, a sociedade brasileira se sensibiliza e se expressa coletivamente em relação a tudo que lhe desagrada e choca – e as polêmicas nas redes sociais acerca da crise política e da corrupção tupiniquins são provas concretas disso. Das duas possibilidades do real envolvendo a menina carioca de 16 anos, quais sejam, a) ela foi estuprada por 36 homens; e, b) desejou sexo com 36 homens, a primeira certamente congrega melhor essa sociedade machista, todavia traumaticamente, em função da manutenção de um tabu que visa justamente proibir e ocultar a segunda.
Estabelecer peremptoriamente que a menina de 16 anos foi estuprada por 36 homens, e não que ela quis transar com todos eles, portanto, é a histeria coletiva que melhor mantém a sociedade machista estupradora como ela é. Infelizmente, até aqui, a nossa sociedade sabe lidar melhor com a barbaridade do estupro de uma mulher e com a satiríase do que com a liberdade feminina radical envolvida na ninfomania. A realidade, bem como os sentimentos e opiniões comuns que ela gera, ainda seguem a cartilha machista-satiríaca. Aos sátiros toda liberdade e honra. Das ninfas, em contrapartida, quando praticam a mesma liberdade e honram seus desejos com a mesma desmedida, delas é dito que foram violentadas, estupradas. Por que? Ora, porque o macho-satiríaco também é um sádico narcisista: se a fêmea goza tanto ou mais que ele, é por causa de sua macheza e violência, e não porque ela é capaz disso.
Apesar das diferentes versões, não se tem certeza se a menina foi de fato estuprada ou se, como em outras vezes, propôs-se ao sexo coletivo apenas. Particularmente, prefiro que seja a segunda opção, e isso por dois motivos. Em primeiro lugar, porque a garota em questão deixa de ser uma vítima da barbárie do estupro para ser dona de suas escolhas sexuais, inclusive a de transar com dezenas de homens de uma só vez. Nada deve haver que prive as mulheres de realizarem seus desejos sexuais, por excêntricos sejam -se é que este conceito tem alguma realidade. Sem dizer que já é uma violência nominar a realização sexual plena de um mulher de violência. E em segundo lugar, é melhor que ela seja uma ninfomaníaca porque a sociedade tem de se habituar que a mulher pode ser, como muitas vezes é, tão ou mais livre, desejosa e ativa sexualmente do que um homem. Mas isso a nossa sociedade machista não pode aceitar, apenas criminalizar. Remédio perverso que nunca cicatrizará a ferida social aberta pelo machismo.