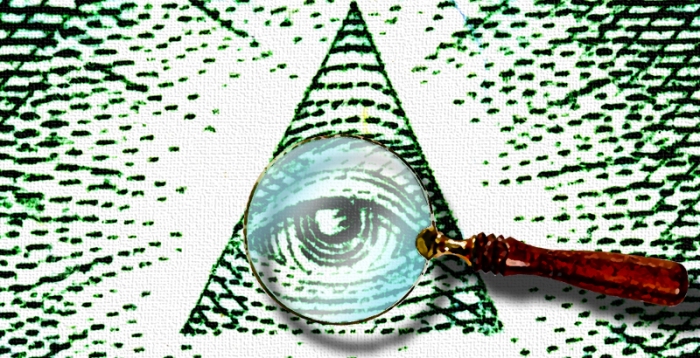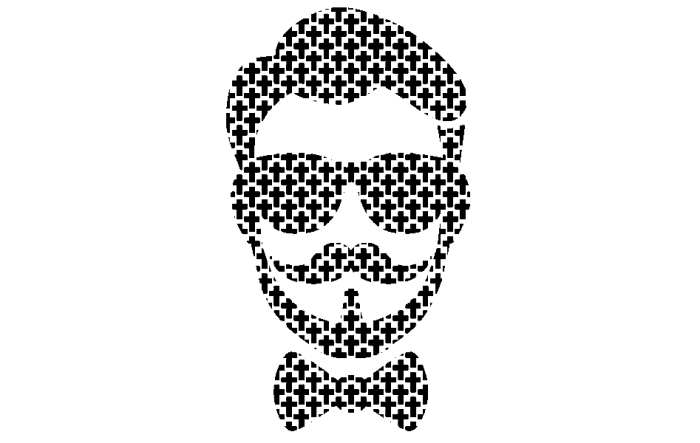
Certa vez um figurinista foi a uma feira vender as suas vestimentas inspiradas na estética da dança contemporânea. Ao lado de sua banca havia outra, de um garoto devidamente paramentado na estética hipster, que vendia camisetas pretas com crucifixos estampados em vários formatos e situações. O nome da grife dele era CROSS (cruz, em inglês). Como as pessoas veem a si mesmas nas coisas, o figurinista de pronto achou que as cruzes eram apenas mais do intempestivo revival gótico-anos-1980 que, impertinentemente, crescia no solar e colorido Rio de Janeiro em plena década de 2010. Porém, contemplar as próprias ideias mostra sempre muito pouco. Sendo assim, o figurinista ainda teria algo maior para enxergar.
Uma frequentadora da feira, ao ver as cruzes nas camisetas, comentou com o figurinista que o hipster da CROSS era “um evangélico doutrinando a moda”. O comentário pejorativo encontrava a sua pertinência no fundamentalismo religioso que ocupava a política do Brasil, e, sobretudo, preocupava aqueles que ainda se lembravam de que o Estado brasileiro era, constitucionalmente, laico – ou pelo menos deveria ser… O plano ideológico partir do qual a frequentadora proferiu a sua crítica era compartilhado pelo figurinista. No entanto, ele resistiu em concordar com ela que se tratava de um evangélico evangelizando o mundo da moda. O figurinista ainda achava que era apenas um hispster neo-gótico da Cidade Maravilhosa.
Horas depois, no entanto, o figurinista perguntou amigavelmente ao garoto da CROSS se ele era de fato evangélico, e se suas camisetas pretendiam estetizar a doutrina que ele seguia. Depois de um silêncio que parecia antever algum juízo de valor, e depreciativo, ele, reticente, respondeu afirmativamente às duas perguntas, e ficou aguardando a próxima interlocução do figurinista, que, contudo, não fez crítica religiosa alguma, apenas disse de sua impressão inicial: que as cruzes das camisetas lhe pareceram só uma manifestação estética neo-gótica, como via nalgumas praças do Rio; e, na sequência, confessou que lhe intrigava o fato de as tais cruzes agradarem tanta gente não religiosa.
O agora assumido evangélico hispter não só se sentiu respeitado pelo figurinista laico, como também elogiado pelo comentário sobre o alcance, digamos assim, além-religião das suas mercadorias. Mesmo respeito e elogio, contudo, o evangélico hispter não recebeu dos demais expositores da feira, que, mesmo sem terem certeza se o hipster da CROSS era ou não evangélico, trataram-no como se ele fosse um invasor fundamentalista no universo laico&fashion deles.
No final da feira, houve uma reunião com todos os expositores, na qual o figurinista, por acaso, manteve em mãos uma caixa de alfinetes que, no meio da conversa, abriu-se, esparramando todos os alfinetes pelo chão de pedras portuguesas. Isso chamou a atenção de todo o grupo. Porém, somente o evangélico hispter, imediata e instintivamente, foi ajudar o figurinista a recolher as muitas e miúdas peças. Quando mais ou menos metade delas já estavam recuperadas, o figurinista já se deu por satisfeito. Agradeceu ao evangélico hipster, dizendo-lhe que não precisava se preocupar com o resto. O garoto, no entanto, só parou quando o último alfinete foi achado e devolvido à caixa.
Enquanto isso, os demais expositores haviam interrompido a conversa para ficarem apenas observando o figurinista e o evangélico hispter juntarem os alfinetes. Durante esse tempo, o figurinista – que sequer imaginou que alguém fosse dar bola para os seus pequenos apetrechos caídos -, de um lado, surpreendia-se com o altruísmo espontâneo do evangélico hispter, e, por outro, conformava-se com a indiferença egoísta que imperava entre os laicos. O próprio figurinista teve de reconhecer que, caso os alfinetes de outrem tivessem caído, ele provavelmente não teria se disposto a ajoelhar-se para juntá-los altruisticamente como fez o religioso.
Ainda juntando os alfinetes com o evangélico hispter, o figurinista silenciosamente relembrou-se de uma velha máxima sua: que a Igreja Evangélica era a “maçonaria dos pobres”. Mutatis mutandis, a comunidade evangélica atenta muito às necessidades dos seus. Se um fiel está sem casa para morar, ou sem trabalho para sustentar a família, os demais fazem o esforço necessário para solucionar tais dificuldades. Os laicos, no entanto, acusam esse “altruísmo” de sempre custar caro demais; sendo o dízimo cobrado pelas igrejas esse alto preço. Porém, naquele momento, um fiel estava ajudando um não fiel, o figurinista, mesmo que este não fosse pagar “taxa” alguma.
O figurinista, que também é amante da filosofia, não conseguiu evitar recordar do realista e amoral Maquiavel, que, no entanto, dizia que a religião, muito antes das leis e instituições como tais, é o primeiro e mais forte cimento da comunidade. Aquele religioso, que de pronto se ajoelhou para que o figurinista não se ajoelhasse sozinho, tinha em si o sentimento do “comum” como nenhum dos laicos dali, nem mesmo o figurinista. Naquele instante, o figurinista laico teve de admitir que a religiosidade guarda virtudes que a laicidade furta. Mais ainda, que a laicidade se orgulha do vício de desmerecer a virtuosidade que a religiosidade possui.
Depois do último alfinete recolhido e da reunião final encerrada, o figurinista laico, para encerrar a feira com chave-de-ouro, melhor dizendo, com chave-de-álcool, comprou duas canecas de cerveja artesanal, uma para ele, outra para o evangélico hispter. Seria o álcool o único “dízimo” que os laicos ainda se dispõem a pagar uns aos outros? O evangélico hispter agradeceu a oferta antes de recusá-la, pois, disse ele, a sua religião não permitia – coisa que o figurinista laico já sabia, só havia se esquecido. O figurinista teve de reconhecer que os laicos como ele, por pensarem tanto ou somente em si mesmos, pressupõem que todos gostarão do que eles gostam, farão o que eles fazem, pois, afinal, não há nada proibido… Se “Deus está morto, então tudo é permitido”, já dizia Ivan Karamazov, personagem de Dostoiévski.
O figurinista laico, ao tentar retribuir a ajuda que somente o religioso ofereceu, no final das contas acabou com duas cervejas deliciosas para beber enquanto esperava o carreto que havia pago para buscar a sua banca. Enquanto isso, alcoolizando-se, observava o evangélico hispter – cuja comunidade é sempre mais solidária do que as “comunidades” laicas – ser buscado por um amigo também evangélico, sem precisar pagar nada por isso. Moral da história: a laicidade nos dispensa de ajudarmos uns aos outros, todavia, cobrando o preço de não sermos ajudados por ninguém quando precisamos; já a religiosidade, em troca, compromete uns com os outros a ponto de ninguém estar sozinho quando realmente precisa de ajuda.
O figurinista amante de Sophia, depois dessa experiência, obviamente, não cogitou converter-se à Igreja Evangélica. Entretanto, experimentou na prática a virtude da religiosidade que contemplava apenas nas teorias. Maquiavel, o seu filósofo favorito, foi mais realista que nunca: as pessoas só conseguem formar comunidades de verdade se alguma religiosidade as atravessarem, unirem, religarem. Sem isso, somos somente um bando de sujeitos individualistas e egoístas observando indiferentemente os outros enfrentarem e resolverem sozinhos os seus problemas, como se as dificuldades não fossem algo comum a todos.
Transformando essa percepção existencial na “parábola do evangélico hispter”, o figurinista laico viu que a ausência de religiosidade não só cinde as pessoas umas das outras, deixando-as sozinhas com os seus problemas, como também divide internamente os próprios sujeitos laicos, que, assim como não ajudam altruisticamente os outros, assim também são incapazes de “salvarem” a si mesmos quando partes suas precisam da solidariedade de outras. O egoísmo não é do sujeito para fora. Nasce no próprio sujeito; em relação a si mesmo. Domina-o em primeiro lugar. E é por isso que tal sujeito não consegue ser solidário com os demais, pois falta-lhe religião, religação; tanto para religar as suas próprias partes, quanto para religá-lo aos demais sujeitos.